No Fórum Regional da Leopoldina, na zona norte do Rio de Janeiro, o juiz André Tredinnick aplica uma técnica alternativa para resolver conflitos como partilha de bens em um divórcio e disputa pela guarda de filho: a constelação familiar.
Nessa técnica, as partes recriam suas relações por meio de representações, que podem ser feitas por bonecos ou por outras pessoas. A ideia é que os litigantes compreendam a origem de seus desentendimentos e busquem encontrar uma saída amigável para a questão. A prática vem se mostrando eficaz: dados preliminares apontam que 86% dos processos submetidos a ela acabam em acordo.
Criada pelo alemão Bert Hellinger, sob inspiração da cultura zulu, a constelação familiar foi trazida para o Judiciário brasileiro em 2012 pelo juiz Sami Storch, que atua no interior da Bahia. Após assistir a uma palestra do magistrado, Tredinnick — que é titular da 1ª Vara de Família de Leopoldina — decidiu aplicá-la no Rio. Para isso, montou uma equipe de especialistas no assunto, que conduzem as sessões.
Agora, ele, em parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, vem sistematizando os resultados da técnica, de forma a aprimorá-la e torná-la política pública. No momento, o método é empregado em 15 estados do país.
O juiz do Rio acredita que o Judiciário não promove pacificação social, pois é uma força autoritária, imposta de cima para baixo. Para melhorar o sistema, ele defende métodos que promovem autocomposição, a democratização da Justiça (com eleições diretas para presidentes de tribunais) e uma maior participação da sociedade na definição de políticas públicas.
Leia a entrevista:
ConJur — Como funciona o método da constelação familiar?
André Tredinnick — O método funciona como uma dinâmica vivencial. As pessoas trazem uma questão e o constelador organiza essa dinâmica, fazer a vivência ocorrer. Por exemplo, se ele trabalhar com o método de pessoas, vai colocar indivíduos representado a questão que o “cliente” trouxe, a partir da vivência dele. Outro método representa a situação com bonecos. O criador da técnica, o alemão Bert Hellinger, criou as duas fórmulas, uma com pessoas e outra com bonecos. Temos usado as duas técnicas no fórum. Particularmente, prefiro a com pessoas, pois penso que, nela, a vivência é mais intensa. Já os bonecos nós usamos mais em sessões individuais ou com crianças. Às vezes, é mais fácil a criança falar alguma coisa por meio dos bonecos.
ConJur — Em que tipo de situação a constelação familiar pode ser aplicada?
André Tredinnick — Um exemplo extremo: em um conflito familiar, quando as partes não sentam uma de frente para a outra, se sentam de lado. Não há comunicação eficaz. Mas aí mandamos as partes para a constelação familiar. Após esse processo, quando elas voltam, conseguem se olhar nos olhos, sentar frente a frente. É impressionante. Estamos analisando o impacto da constelação familiar, mas a impressão é que a falta de comunicação começa a se alterar já de primeira. É estranhíssimo, porque parece que dá uma maturidade às pessoas ou abre seus corações. Em um caso, o pai de uma criança morreu, e a mãe e a avó paterna disputavam a guarda do neto. A avó associava a criança ao pai. Quando fizemos a constelação familiar com bonecos, a criança conseguiu mostrar para a avó algo que ela nunca tinha falado: que adorava a avó, mas queria morar com a mãe. A avó, então, chorou muito, não entendeu nada, sua defensora alegou que a técnica não prestava. Mas ela sentiu. Depois de um tempo, em nova audiência, a avó disse que conseguiu ver que a criança queria ficar com a mãe. É muito impressionante. Nós temos uma serie de argumentações jurídicas, mas a parte raciocinou, percebeu que a criança tem uma vontade, uma opinião, conseguiu ter a empatia de olhar para ela e entender o que seria melhor para sua vida, superando o buraco emocional da morte de seu filho.
ConJur — Isso é mais eficaz do que a dinâmica regular do processo?
André Tredinnick — É incrível e emblemático poder sair um pouco partir para uma nova dinâmica independente do curso do processo. Um casal, ele músico, ela produtora musical, se separou quando ele começava a fazer sucesso. Ela se sentia muito prejudicada na partilha de bens, porque ele, mesmo não se divorciando, já se separa de fato. Eles estavam disputando patrimônio. Então nós propusemos a constelação. Após fazerem duas dinâmicas ao longo de um mês, eles já conseguem se sentar frente a frente, já conseguem conversar sobre as relações de filhos, excluíram o tom de voz mais alto, os socos na mesa, aquela violência da discussão. Eles conseguiram desvincular a emoção do processo, criaram uma dinâmica comunicativa.
ConJur — Uma constelação familiar bem-sucedida é a que termina em acordo?
André Tredinnick — Não necessariamente. No tribunal, nós temos essa ótica: o sucesso é medido pelo fato de ter havido acordo ou não. Mas nem sempre isso quer dizer que a técnica foi bem-sucedida, porque às vezes as pessoas descolam o litigio da relação e passam a aceitar melhor as consequências de uma decisão judicial.
ConJur — O senhor poderia explicar o passo a passo da constelação familiar em uma disputa de guarda de menor, por exemplo?
André Tredinnick — A petição inicial é apresentada e começa o processo. A primeira coisa que fazemos é marcar uma oficina de parentalidade. O Conselho Nacional de Justiça recomenda essa prática em varas de Família, baseado no novo Código de Processo Civil, que tem um procedimento processual de próprio para casos de família. É reconhecida a particularidade do conflito de família. Na minha opinião, é um dos conflitos mais difíceis que existem, por conta da relação continuada e das emoções envolvidas. Assim, ao iniciar o processo, o juiz deve tentar a autocomposição das partes, intervindo de forma mínima. Deriva daí o convite que é feito as partes para aderir ou não à oficina de parentalidade.
Nisso, o juiz explica sumariamente para as partes como funciona o processo, que é uma dinâmica vivencial, na qual se pode vislumbrar o conflito, que não tem nada a ver com religião, psicoterapia, reencarnação. É feita uma limpeza das ideias equivocadas que podem existir sobre isso. Se a pessoa adere, é marcada imediatamente uma sessão próxima — temos a preocupação de que essas práticas não ultrapassem 60 dias. É feita uma dinâmica, então, em que se juntam varias partes, com vários processos diferentes. Aí, sim, há uma explicação mais detalhada de como vai ser a técnica para quem quiser permanecer, ou seja, quem já aderiu voluntariamente. Tem pessoas que não querem, querem o julgamento e saem da sala. Nesses casos, marcamos então a audiência de mediação ou de conciliação, e, se não houver acordo, procedemos ao julgamento.
Quem fica recebe uma explicação mais detalhada. Aí começam os convites de quem quer fazer a sua interpretação. A primeira dinâmica é das pessoas com os pais. Assim, a pessoa deve escolher duas pessoas que vão representar o seu pai e a sua mãe. Não é dito nada - ela deve sentir sua relação com o pai e com a mãe. Não é propriamente constelação, é uma técnica de entrada para a pessoa começa a abrir suas emoções, começa a deixar vazar a percepção, a autopercepção. Terminada essa dinâmica em que todos participam, as pessoas voltam aos seus lugares em círculo. Em seguida, pergunta-se se alguém quer representar um caso. Por exemplo, o sujeito está disputando a guarda do filho com sua ex-mulher. Daí perguntam-lhe quem ele quer colocar na cena. Sua ex-mulher? Seu pai? O filho? Um amigo? Aí vão colocando esses “personagens” e fica possível visualizar a cena.
ConJur — Quem coloca esses “personagens”?
André Tredinnick — É o constelador, a equipe que trabalha voluntariamente no fórum. O pioneiro da constelação no Brasil, Sami Storch, um juiz do interior da Bahia, estudou com o Bert Helinger na Alemanha e organiza a técnica em seus processos. Quando ele veio ao Rio fazer um seminário sobre o assunto, fui procurar uma equipe que se chama Praxis. São consteladores que estudaram com a Virginia Satir, outra referência nos EUA sobre constelação, com o próprio Bert. Conversando com eles, eu sugeri aplicarmos a constelação no tribunal. Mas como não sou constelador e o Rio de Janeiro é uma comarca com mais recursos, preferi deixar o método na mão de técnicos. A princípio, imitamos a técnica do Sami Storch. Mas nós entendemos que o processo tinha que ser documentado todos os sentidos — fotos, entrevistas, gravações, dados. Agora estamos na fase de acompanhamento, de ver como os processos submetidos à constelação ficaram após um tempo. E temos visto que as pessoas não voltam à Justiça.
ConJur — E o que ocorre após escolherem quem representará os “personagens”?
André Tredinnick — Tem início a constelação. Aí as pessoas visualizam o conflito. Às vezes elas sentem vontade de representar, para experimentar as emoções dos outros. Aí experimentam representar o pai, a mãe, experimentam sensações que não são delas. E ficam muito impressionadas, se emocionam muito. Quando termina uma representação de um caso, elas retornam a seus lugares. Daí se faz uma segunda, às vezes uma terceira representação. Caso seja detectada uma dificuldade naquele momento, se marca uma sessão individual própria daquela família, daquele caso, daquela dinâmica, que nunca é o caso em si. Nunca é, por exemplo, quem bateu na criança foi fulano. Não é isso, a pergunta nunca é essa. Geralmente a própria família da pessoa entendeu a sua dinâmica anterior, que levou àquele conflito. Esse é o objetivo. Quando essa etapa acaba, as partes saem com a data da audiência de autocomposição. É o primeiro ato processual propriamente dito. Nela, se as partes chegam a um acordo, eu o homologo; se não, eu julgo.
ConJur — O juiz — o senhor — está presente em todos os atos da constelação familiar?
André Tredinnick — Não. Geralmente, eu gosto que as partes fiquem independentes, autônomas. Desde o início, a minha preocupação era não personalizar essa prática. Já vi várias inciativas inteligentíssimas e superinteressantes virarem lixo porque personalizam a pessoa, o juiz que a inventou, e quando ele se aposenta muda de carreira, ela é interrompida. O caminho, para mim, é tornar a prática uma política pública. Nós pensamos em apresentar uma ideia de formação de técnicos ou psicólogos pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, eu prefiro não participar. No máximo, eu faço uma abertura, uma explicação. As partes gostam porque se sentem seguras.
ConJur — Há conflitos familiares para os quais a constelação é mais eficaz? E há situações em que ela é menos eficaz?
André Tredinnick — Não. O que posso dizer é que quando os dois aceitam fazer a constelação, a eficácia é maior; quando um não vem, a eficácia é menor.
ConJur — Quais são os limites da constelação?
André Tredinnick — A constelação não pode violar direitos fundamentais, como a liberdade de crença e de não crença. O espaço público não pode contemplar nenhum tipo de manifestação religiosa. Laicismo é um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Essa é a minha maior preocupação. Para o nosso público, às a pessoa querer abrir com uma música já implica uma rejeição da técnica. Em um caso, uma terapeuta colocou uma música xamânica. Mas para alguns evangélicos, por exemplo, a canção parecia profana, e eles saíram da sala. Então, não dá para usar música. Incenso é outra coisa que gera rejeição, então é proibido. É preciso ter sutileza para respeitar todas as visões.
ConJur — Qual é a formação dos profissionais que conduzem a constelação familiar no tribunal?
André Tredinnick — As pessoas que a praticam deve ter uma formação extensa, cursos de, no mínimo, dois anos, com uma supervisão constante. Justamente porque não tem uma formulação, queremos que o indivíduo tenha um mínimo de bagagem para fazer isso. Essa é uma exigência minha, para trabalharmos com pessoas com formação conhecida e reconhecida. Não basta ser uma pessoa legal, que faz o trabalho direito. Também é importante que não haja nenhum tipo de julgamento, nenhuma relação com o processo. A prática não tem que induzir, recomendar ou sugerir nada relacionado ao processo. A relação é familiar, é dinâmica, é da vida, da experiência daquela pessoa, não tem nada a ver com o processo.
ConJur — Como advogados encaram a constelação familiar?
André Tredinnick — Usa-se muito a técnica em escritórios de advocacia. Tem advogados consteladores que logo propõem ao cliente fazer uma dinâmica, para ele entrar na causa mais com mais autopercepção. Advogados que fazem isso dizem que muda completamente a relação. Às vezes a pessoa até desiste de entrar com o processo, o que parece uma coisa contraditória para o advogado, né? Mas acho que o advogado percebe que o seu trabalho não é só entrar com o processo — até porque o sistema está sobrecarregado.
É preciso que nós deixemos de nos apegar a soluções autoritárias: ao estabelecermos que um juiz sempre sabe o que é melhor para uma família, para um réu ou para as partes em uma disputa de bens, estamos destruindo a possibilidade de convívio social. Temos que ter autocritica e continuar garantindo o Estado Democrático de Direito, mas não negando às pessoas o direito de autocompreensão, de autocomposição, que democratiza o processo. O Judiciário tem que ser radialmente democratizado. E não só internamente, mas também assegurando que as pessoas sejam realmente ouvidas. As pessoas têm direito de se manifestar e não serem robôs de uma causa.
ConJur — Há dados que mostrem a eficácia do método?
André Tredinnick — Fizemos uma contagem provisória e chegamos a um percentual de acordo em 86% dos casos. Mas veja: acordo não quer dizer nem sucesso nem fracasso, porque ele pode não ser cumprido, pode haver não acordos em que as pessoas mudaram a dinâmica de relação. Temos trabalhado com o parâmetro mais comum, que é do Conselho Nacional de Justiça, que considera acordo o que encerra o processo. Nós agora vamos confrontar esse dado com os depoimentos e com a evolução do caso — ou seja, se houve reincidência, se houve medida para cumprir o acordo, se houve uma alegação de alienação parental posterior ao acordo. Mas os dados preliminares indicam que o percentual de acordos subiu de 50%, 60%, para 86% após a constelação familiar começar a ser aplicada.
ConJur — O Novo Código de Processo Civil colocou uma grande ênfase na mediação e na conciliação. A seu ver, esse é o melhor caminho para desafogar o Judiciário e para melhorar a resolução de conflitos?
André Tredinnick — Eu tenho um problema com a questão de desafogar o Judiciário. Penso que o Judiciário inunda a sociedade, e não o contrário. O Judiciário cria espaços de totalidade, ele quer abraçar tudo. Por exemplo, o Juizado Especial Cível era uma grande sacada para as causas de menos complexidade. Em razão da lentidão, do fracasso, do tecnicismo e do bizantismo do Judiciário, buscou-se simplificar o rito. Mas o JEC uma inundação na sociedade, ele abarcou conflitos que eram resolvidos de outra forma. É uma grande loucura que no novo código tenha havido uma grande disputa para abranger outras questões familiares, como por exemplo, escolha de escola do filho. Isso para mim é inundação do Judiciário. Ele se expande antidemocraticamente pelo tecido social. E não é o caminho, porque não há pacificação social no Judiciário. Isso é impossível. O Judiciário é força, ele exerce um poder vertical e autoritário na sociedade. Ele deve ser exceção, não regra. Não tem solução judicial em que a pessoa saia satisfeita. Não existe a ideia de que “a Justiça foi feita”. Fora que isso acaba elitizando a Justiça. Com essa super expansão do sistema, só quem tem poder econômico ou político consegue transitar rapidamente pelo sistema.
No mais, a massa vai enfrentar o sistema mecanizado da Justiça. E para consertar essa doença da expansão, usamos critérios de produtividade do toyotismo, do fordismo, iguais aos usados por empresas privadas. Isso é muito perigoso, porque aumenta a mecanização, aumenta terceirização, muda a pessoa que produz as decisões, e aumentam os erros. E não é isso o que pretendemos. Temos técnicos recrutados da sociedade, muito bem pagos, que devem fazer seu trabalho com qualidade e personalização, no momento de sua intervenção para a garantia do Estado Democrático de Direito, mas não abarcando a totalidade da realidade. Isso é muito grave e antidemocrático.
ConJur — E como melhorar esse sistema?
André Tredinnick — Se eu for falar em sonho, seria pela radicalização democrática do Judiciário, com controle social da atividade judicial. Isso não significa tribunais de exceção, tribunais populares, significa participação social. Por exemplo, a aplicação da constelação familiar. A lei permite, nós apresentamos os dados que mostram sua eficácia. Mas qual é a opinião da sociedade sobre isso? Eu não sei, porque tenho que me dirigir a uma cúpula que está presa a uma ideia de produtividade pelo juiz. Então, a primeira questão é a democratização radical de dentro do Judiciário, com eleições diretas para eleger a cúpula, e ouvir a sociedade quanto a políticas públicas. E também criar canais para se drenar esse maremoto, para que o Judiciário não seja a única solução possível. Assim, poderíamos conferir mais poder para o Procon, mais alternativas de resolução de conflitos em câmaras coletivas, mais foco em justiça restaurativa.
ConJur — Os advogados entenderam essa guinada em prol da resolução consensual de conflitos ou continuam presos a uma mentalidade litigiosa?
André Tredinnick — A mentalidade dos advogados é totalmente litigiosa. Nós somos formados pela faculdade para brigar, para entrar com uma ação e ganhar a ação. E a gente despeja por ano milhares de advogados no sistema. Para pagar suas contas, o advogado vai ser criativo, vai aumentar o litígio. Então quando você chama um advogado para uma mediação, ele acha que está perdendo dinheiro. Um dos maiores esforços nossos é convencer juízes de que eles não estão perdendo poder com as resoluções alternativas de conflitos, e advogados, de que eles podem ganhar dinheiro com isso, de que eles podem cobrar para fazer a mediação, a conciliação.
ConJur — A constelação familiar pode ser aplicada a conflitos de outras áreas do Direito?
André Tredinnick — Sim. Eu gostaria de experimentar essa solução para Juizados Especiais Criminais, onde há ofensas de menor importância. Por exemplo, a experiência do juizado do Leblon (zona sul do Rio), que é um bairro rico, mostra muitas brigas em condomínios que acabam em crimes contra a honra, ameaça, lesão corporal. É uma questão puramente de ausência de contato com as emoções. Essa uma dinâmica que poderia ser experimentada lá com muita clareza. No outro extremo, o juizado criminal acaba criminalizando condutas banais de pessoas humildes. Sem recursos de defesa, eles começam a experimentar o sistema criminal, que é extremamente segregatório - uma mácula dessa o indivíduo está fora do sistema funcional, não trabalha em lugar nenhum. Brigas familiares também poderiam ser humanizadas com a aplicação da constelação familiar. O método poderia ser usado em disputa de empresa familiar, disputa possessória envolvendo vizinhos que são parentes. O Ministério Público ainda poderia fazer aplicar a técnica com questões de idosos, por exemplo, da administração de bens de idoso.
ConJur — A aplicação da constelação familiar na área criminal poderia ajudar a diminuir a reincidência?
André Tredinnick — Tenho muita confiança que sim. A dinâmica que leva a não consegui falar com o ex-cônjuge, que leva a agredir um filho, que leva a brigar com um vizinho é a dinâmica que leva a cometer um crime. Basta ver o impacto dos projetos de justiça restaurativa.
ConJur — Qual é a diferença entre a Justiça restaurativa e a constelação familiar?
André Tredinnick — A Justiça restaurativa é outro sistema. Nela, não existe a figura do juiz, não existe um processo com a dinâmica de parte, autor e réu. Existe a dinâmica de construção da solução. O indivíduo não é o indivíduo que vai ser punido pelo Estado, é o indivíduo que cometeu algo reprovável em razão de uma pessoa — a subtração de um bem, um ato de violência que ele tem — e que deve reconhecer seu ato. Um exemplo de um livro dos EUA: um moleque roubou o carro do vizinho. Em vez de levar o caso para a Justiça, a vítima levou para a igreja local, onde promoveram uma reunião.
Nela, o garoto ouviu a vítima falar que tinha ficado muito chateada com o episódio, pois encontrou o carro com o vidro quebrado e ainda nem tinha acabado de pagá-lo. Envergonhados, os pais do garoto arranjaram um emprego num parente. A partir daí, o garoto se comprometeu a pagar em um certo número de parcelas o dano que causou, e a vítima aceitou as desculpas. Tem uma coisa muito interessante nisso: as vítimas do crime não são ouvidas, não querem saber o que elas sentiram. Só querem saber se o suspeito praticou ou não o crime. E aí o trem vai andando inexoravelmente para um ponto — o ponto da condenação. A Justiça restaurativa é algo incrível. Nós, que fazemos Justiça restaurativa, gostamos muitas vezes de entrar com a constelação familiar nela antes de começar o círculo, para a pessoa ter essa autopercepção da sua dinâmica — o que a levou a isso e, sobretudo, a humanização de sentir o outro, olhar no olho do outro. Não no sentido bíblico de culpa, mas no sentido de humanização: “olha, foi legal fazer aquilo, eu me senti transgressor, mas tem uma consequência: alguém ficou chateado, alguém foi prejudicado”. Em casos mais graves, que geraram lesão permanente, o efeito é impressionante.
Colocar um agressor de mulheres diante de uma vítima que perdeu o olho pelos ferimentos tem uma totalidade poderosa. Não é uma coisa romântica de perdoar, de se culpar. Não, é a percepção do humano. É isso que falta no sistema tradicional. Nós supostamente tornamos tudo científico, mas não resolvemos nada, porque o índice de reincidência nosso é abissal, nossa população carcerária é uma das maiores do mundo.
Sérgio Rodas é correspondente da revista
Consultor Jurídico no Rio de Janeiro.
Revista Consultor Jurídico, 12 de novembro de 2017.
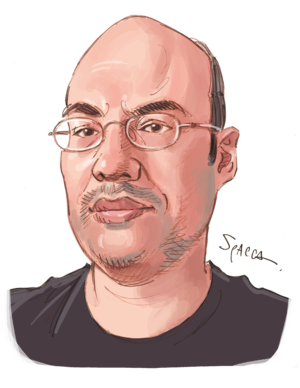
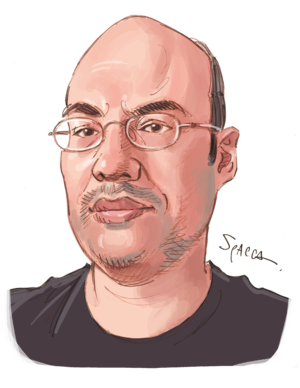
Nenhum comentário:
Postar um comentário